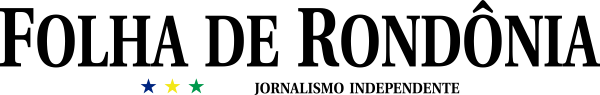Em três anos de pandemia, ciência e vírus evoluíram



Desde que a pandemia de covid-19 começou, em 11 de março de 2020, o sucesso de novas estratégias na contenção do coronavírus SARS-CoV-2 e as mutações que deram a ele maior capacidade de transmissão moldaram altos e baixos que criaram ondas, picos e momentos de relaxamento e tranquilidade.
Nestes três anos, o coronavírus descoberto em Wuhan, na China, 
 já causou 759 milhões de casos de covid-19, que provocaram 6,8 milhões de mortes, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Cerca de 65% da população mundial está vacinada com duas doses, e 30% receberam doses de reforço. Esses percentuais, porém, escondem desigualdades: enquanto Américas, Europa e Leste da Ásia estão perto dessa média ou acima dela, menos de 30% da população da África recebeu duas doses da vacinas.
já causou 759 milhões de casos de covid-19, que provocaram 6,8 milhões de mortes, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Cerca de 65% da população mundial está vacinada com duas doses, e 30% receberam doses de reforço. Esses percentuais, porém, escondem desigualdades: enquanto Américas, Europa e Leste da Ásia estão perto dessa média ou acima dela, menos de 30% da população da África recebeu duas doses da vacinas.
No Brasil, os óbitos se aproximam dos 700 mil, em um universo de 37 milhões de casos já diagnosticados. Apesar de a pandemia não causar mais o colapso de unidades de saúde, ela ainda faz vítimas: foram 330 na última semana epidemiológica, segundo dados do DataSUS, o que mostra que ainda é necessária atenção à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento da doença.
No que diz respeito à vacinação, o Brasil possui uma cobertura acima da média do mundo e das Américas, com 82% da população com o esquema primário completo e 58% com ao menos uma dose de reforço, segundo dados do painel Monitora Covid-19, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A maior parte dessas doses aplicadas é de vacinas de terceira geração, com as tecnologias de vetor viral e RNA mensageiro, uma inovação posta em prática em massa pela primeira vez com a pandemia de covid-19 e acrescentada ao arsenal da ciência contra futuras ameaças de saúde pública.
Quais foram os marcos que moldaram a pandemia?
Ao contar a história da pandemia, o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alberto Chebabo, destaca que há muitas formas de dividi-la, e um dos principais marcos temporais que se pode apontar é antes e depois da vacinação.
“Em 2020, a gente não tinha vacina, e, em 2021, a gente começou a vacinar muito lentamente no primeiro semestre. Foi o período em que a gente teve o maior número de mortes e a maior demanda por leitos hospitalares”, lembra. “A partir do segundo semestre 2021, quando a gente consegue avançar na vacinação, há uma mudança de característica da doença, que passa a ter uma gravidade muito menor do que foi durante esse primeiro período, com uma redução importante de mortalidade e no impacto sobre a rede hospitalar.”
O infectologista acrescenta que as mudanças do próprio vírus são outra variável que moldou essa história. A partir de 2021, as variantes do coronavírus, especialmente a Gamma e a Delta, trouxeram um grande aumento de casos no Brasil, que se tornou ainda mais expressivo em 2022, com a chegada da Ômicron. Além de o vírus se disseminar mais rápido, os testes se tornaram mais acessíveis, o que também ajudou a elevar o número de diagnósticos de covid-19, que antes estavam restritos a casos de maior gravidade.
“Uma terceira forma de dividir é que a gente teve, a partir do final de 2022 e início de 2023, a possibilidade de ter medicamentos incorporados ao SUS para que a gente possa tratar os casos com pior resposta à vacina”, diz Chebabo. “Apesar de a gente querer um tratamento precoce, rápido e específico para a doença, a gente demorou a achar. Precisou ter um desenvolvimento de novas drogas antivirais e anti-inflamatórias para que a gente pudesse ter a possibilidade de tratar precocemente a doença. Medicações que foram advogadas como salvadoras, como a cloroquina e a ivermectina, realmente não tinham nenhuma função.”
O conhecimento sobre o vírus, explica o pesquisador, foi outro ponto importante que reduziu a mortalidade da doença. Ainda no primeiro ano da pandemia, a descoberta de como manejar os casos de falta de oxigenação no sangue permitiu um tratamento clínico mais eficaz nas unidades de terapia intensiva (UTIs). A própria caracterização da covid-19 como doença respiratória mudou ao longo do tempo.
“A gente aprendeu o espectro todo da doença. Não é uma doença apenas com um quadro respiratório agudo, é uma doença com quadros muito mais amplos, com quadros cardiovasculares, com risco de trombose, e com a covid longa. Também tem impactos a médio e longo prazo”, explica ele, que cita mudanças neurológicas e também sequelas pulmonares como condições pós-covid que podem necessitar de tratamento especializado.
A chefe do Laboratório de Vírus Respiratórios, Exantemáticos, Enterovírus e Emergências Virais do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), Marilda Siqueira, destaca que a colaboração de cientistas de diferentes áreas se deu de forma acelerada durante a pandemia, e esse foi um fator fundamental ao longo da emergência sanitária. O laboratório chefiado pela virologista foi referência da OMS 
 no continente americano e também participou do desenvolvimento de testes diagnósticos em tempo recorde.
no continente americano e também participou do desenvolvimento de testes diagnósticos em tempo recorde.
“Assim que a OMS disse que se tratava de um coronavírus, um laboratório em Berlim disponibilizou o desenho de como seria o teste diagnóstico PCR. Então, Bio-Manguinhos contactou nosso laboratório e, em colaboração conosco, produziu em menos de um mês um kit diagnóstico. Com coordenação do Ministério da Saúde, fizemos um treinamento de todos os laboratórios centrais de Saúde Pública [Lacens], e, em 18 de março, os 27 estados brasileiros já estavam com um profissional treinado e com kit para diagnóstico de SARS-CoV-2. Poucos países conseguiram isso, que foi fruto de investimentos de décadas do Ministério da Saúde e Ciência e Tecnologia em Bio-Manguinhos”, conta ela.
Da mesma forma que os testes, a pesquisadora explica que as vacinas também foram fruto de investimentos e esforços cumulativos, o que desmonta a falácia de que foram produzidas “rápido demais”. “Isso aconteceu em um curto espaço de tempo porque já vínhamos com experiências e conhecimento científico acumulado de décadas. Imagina se a introdução do coronavírus tivesse sido há um século, como aconteceu com a gripe espanhola. Teria sido arrasador, porque as ferramentas não estavam naquele momento prontas como estavam neste momento, em 2020. O uso dessas ferramentas que a humanidade vem desenvolvendo foram pontos cruciais para diminuir o impacto da pandemia em um ano.”
Maior colapso sanitário e hospitalar
O virologista da Fiocruz Amazônia Felipe Naveca conta que, assim como a agilidade e articulação dos pesquisadores, a capacidade de transmissão do coronavírus foi crucial para determinar as diferentes fases da pandemia. Desde sua descoberta, no fim de 2019, o vírus impressionou pesquisadores com seu potencial de disseminação, chegando a todos os continentes em poucos meses. Conforme o número de infectados cresceu, aumentou também a pressão seletiva sobre o vírus, que sofreu mutações para escapar do sistema imunológico das pessoas já infectadas e continuar se multiplicando.
“As variantes que tiveram maior sucesso e suas linhagens, ou eram mais transmissíveis, ou escapavam mais do sistema imunológico, ou as duas coisas”, define Naveca, que liderou o grupo responsável pelo sequenciamento da variante Gamma, no Amazonas, causadora do pior momento da pandemia no Brasil.
Foi a variante Gamma que causou as infecções durante o colapso hospitalar no Amazonas em janeiro e se espalhou no país nos meses seguintes a ponto de lotar hospitais em todas as regiões ao mesmo tempo. Menos de 15% da população estava vacinada com a primeira dose naquele momento, e o Brasil chegou a ter mais de 3 mil mortes por dia entre março e abril de 2021, quando enfrentou o maior colapso sanitário e hospitalar de sua história, segundo o Observatório Covid-19, da Fundação Oswaldo Cruz.
Desde 2022, entretanto, as descendentes da variante Ômicron dominam o cenário epidemiológico. “Do vírus ancestral à Ômicron foi um salto muito grande. Inclusive, algumas teorias sugerem que esse vírus ficou evoluindo de uma maneira silenciosa em alguns países com menor vigilância. Pode ser que ela tenha circulado de maneira silenciosa no continente africano, e quando se detecta a Ômicron, ela já era muito diferente de todas as que a gente conhecia.”
O sucesso da variante Ômicron em escapar da imunidade faz dela um marco na pandemia, na visão do vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kfouri, que concorda que o outro grande marco é a proteção coletiva obtida com as vacinas, a partir de 2021.
“A gente tem três momentos na pandemia. Um momento sem vacina; um momento com vacina antes da Ômicron, em que a proteção era mais elevada, inclusive contra as formas leves da doença; e um momento pós-Ômicron, em que a perda da proteção contra as formas leves aconteceu, mas foi conservada a proteção contra as formas graves da doença. Hoje, os vacinados continuam muito bem protegidos dos desfechos mais graves, mas não conseguem estar protegidos contra a infecção.”
O que poderia ter sido diferente?
O Brasil é o segundo país do mundo que contabiliza mais vítimas da covid-19, apesar de ter a quinta maior população mundial. A mortalidade da doença, medida em óbitos por 100 mil habitantes pela Organização Mundial da Saúde, também atinge no país uma média desproporcional: quase quatro vezes maior que a média mundial.
Para o epidemiologista e professor da Universidade de Illinois Urbana-Champaign, nos Estados Unidos, Pedro Hallal, comparar a mortalidade no Brasil com a média mundial requer uma série de ponderações – 
 e elas podem ser ainda mais desfavoráveis para o país. O cientista é coordenador-geral da pesquisa Epicovid-19, que busca medir a prevalência do coronavírus e avaliar a velocidade de expansão da covid-19 no país.
e elas podem ser ainda mais desfavoráveis para o país. O cientista é coordenador-geral da pesquisa Epicovid-19, que busca medir a prevalência do coronavírus e avaliar a velocidade de expansão da covid-19 no país.
Hallal explica que a população brasileira é, em média, mais jovem que a mundial, o que faz com que haja um percentual menor de pessoas no grupo de risco da covid-19. Além disso, o Brasil é um país de renda média que tem um programa nacional de vacinação muito superior ao da maioria dos países, e um sistema de saúde público e universal com capacidade de realizar atendimentos de alta complexidade, como os casos graves de covid-19. Em relação às subnotificações de outros países que possam puxar a média mundial para baixo, o epidemiologista argumenta que a literatura já construída sobre a covid-19 mostra que as mortes são muito menos subnotificadas do que os casos.
“Eu acho justo, por conta de todas essas explicações, dizer que o Brasil tem, no mínimo, quatro vezes mais mortes do que deveria ter”, diz Hallal, que enviou um estudo com essa metodologia no formato de carta ao editor para a revista The Lancet, um dos mais importantes periódicos científicos do mundo, e também apresentou o mesmo levantamento na Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, no Senado Federal. “Não estou comparando se o Brasil fosse o exemplo do melhor enfrentamento. Se o Brasil tivesse sido apenas mediano, ele teria 184 mil mortes, e não 699 mil.”
O especialista destaca que os erros do Brasil no enfrentamento à covid-19 vieram desde o começo da pandemia. Os investimentos em testagem e rastreamento de contatos foram insuficientes, aponta. Além disso, 
 o governo Jair Bolsonaro apostou em uma estratégia de imunidade de rebanho por infecção, na qual havia a expectativa de que um número grande de infectados bloquearia a circulação do vírus em algum momento. “Um erro gravíssimo de quem fez uma leitura equivocada desde o primeiro dia sobre o que que era essa pandemia”, classifica. Ele argumenta que houve uma confusão sobre como deveriam ser implementadas as políticas de distanciamento social, por parte do governo federal, estados e municípios.
o governo Jair Bolsonaro apostou em uma estratégia de imunidade de rebanho por infecção, na qual havia a expectativa de que um número grande de infectados bloquearia a circulação do vírus em algum momento. “Um erro gravíssimo de quem fez uma leitura equivocada desde o primeiro dia sobre o que que era essa pandemia”, classifica. Ele argumenta que houve uma confusão sobre como deveriam ser implementadas as políticas de distanciamento social, por parte do governo federal, estados e municípios.
“O Brasil nunca fez um lockdown. O Brasil fez fechamentos seletivos de longuíssima duração, que destruíram não só a saúde pública, porque não conseguiram impedir a circulação do vírus, como também destruíram a economia do país”, diz. “A ciência mostra que, nos momentos mais agudos, é útil fazer um lockdown extremamente rigoroso e curto. A maioria dos lugares do mundo usa três semanas como referência.”
O presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alberto Chebabo, é cauteloso em relação a comparações da mortalidade no Brasil com a média mundial, pelo risco de subnotificações ou confiabilidade dos dados de todos os países. Apesar disso, ele não tem dúvidas de que houve um excesso de mortalidade por covid-19 no Brasil.
“Certamente, a gente foi um dos países mais afetados. E a gente errou muito na pandemia, principalmente nos primeiros dois anos. O Ministério da Saúde não teve uma atuação coordenada, deixando a cargo de cada município e de cada estado a implementação de medidas, com uma politização e polarização infundadas que levaram a um número muito grande de casos e de óbitos relacionados à não implementação adequada a medidas de controle, principalmente as não farmacológicas [como distanciamento e máscaras], que eram as que gente tinha para oferecer no início”, avalia Chebabo. “Isso fragilizou muito o controle da doença no país, aumentando de forma acentuada o número de óbitos.”
Outro ponto que o infectologista destaca é que houve atraso no início da vacinação contra a covid-19 no momento em que a disseminação da variante Gamma causava a fase mais letal da pandemia, com até 3 mil mortes em um único dia.
“A vacinação contra a covid foi muito lenta e se arrastou durante quase todo o primeiro semestre de 2021, só ganhando força mesmo no segundo semestre”, afirma, 
 lembrando que o país demorou a fechar a compra das vacinas de RNA mensageiro, exportadas pela Pfizer. “O Brasil tem capacidade de vacinar até 1,5 milhão de pessoas por dia, e vacinava 10 mil, 20 mil, ou 100 mil, no máximo. A gente talvez tivesse salvado mais vidas.”
lembrando que o país demorou a fechar a compra das vacinas de RNA mensageiro, exportadas pela Pfizer. “O Brasil tem capacidade de vacinar até 1,5 milhão de pessoas por dia, e vacinava 10 mil, 20 mil, ou 100 mil, no máximo. A gente talvez tivesse salvado mais vidas.”
Para o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kfouri, além da demora, houve falta de empenho em campanhas de estímulo à vacinação e até contrapropaganda por parte do governo à época. Ele considera que uma mortalidade por covid-19 acima dos países desenvolvidos já era esperada para o Brasil, porque isso também ocorre com outras doenças, mas acredita que fatores como os problemas na vacinação agravaram essa diferença.
“Essa poderia ter sido a grande bandeira do governo, que infelizmente trabalhou desfavoravelmente ao uso das vacinas. Atrasou, contraindicou, criou brigas políticas com produtores e questões xenófobas, só dificultando o processo.”
Kfouri destaca que, apesar disso, o Brasil alcançou uma alta cobertura nas duas primeiras doses, mas não conseguiu repetir o feito nas doses de reforço, que são consideradas indispensáveis para a proteção contra as cepas Ômicron. O médico avalia que a pandemia foi o ponto de partida do fortalecimento de movimentos antivacina no Brasil, e que as crianças foram as maiores afetadas.
“Pela primeira vez, a gente vê pais vacinados com até quatro doses que não vacinaram seus filhos. Em geral, a gente protege os filhos e depois pensa na nossa proteção. De uma maneira geral, isso impactou bastante na pediatria. Apesar de ser algo que é mais seletivo, contra as vacinas covid, acaba respingando nas outras vacinas”, afirma. “A pandemia trouxe à luz os grupos contrários à vacinação, que aproveitaram das vacinas contra a covid-19 para disseminar conceitos equivocados e a insegurança na vacinação. Os antivacinistas são muito poucos no Brasil e não prosperavam aqui porque não havia um campo fértil. A covid-19 criou essas condições.”
>>> Clique aqui e confira todas as matérias da Agência Brasil sobre os três anos da pandemia de covid-19